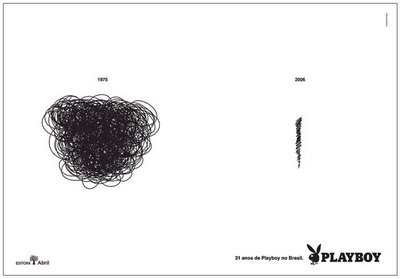Há mais de 70 anos que o sublime feminino habita o imaginário ferroviário, erotizando o gemido metálico das bielas, o fragor da fornalha em combustão e os suspiros vaporizados do Shangai Express. Nesse comboio em que Josef Von Sternberg construiu um filme mítico, o espectro paradoxalmente sensual de Marlene Dietrich evolui em sugestões incorpóreas de sombras negras e fixa, para a eternidade, a impossibilidade de realizar o desejo. E torna-o, pela sua negação irrevogável, ainda mais apetecível, ainda mais desejável, ainda mais obsessivo.
O comboio amarelo tende a agudizar essa ânsia por Shangai Lily. Porque o esplendor do belo feminil raramente ilumina os périplos suburbanos, como se a fealdade, o horrível e o espúrio lhe fossem inerentes. Quase uma imanência – espécie de cínica compensação, urdida no conluio entre Deus e a Engenharia, pela ausência de sanitários a bordo.
E, no entanto, na viagem nocturna para os arrabaldes de Guimarães, ei-la que avança, ao longo da coxia debruada pelos despojos dos sonâmbulos, a excepção cintilante no mais insuspeito dos mortais – a revisora. Uma fêmea estupenda que, assim remetida à vigilância inquiridora e punitiva das faltas alheias, surge como uma proposição épica fora do contexto à vista quebrada dos viajantes, gratos pela violência daquele percalço discursivo que os arrebatou ao sono.
O escândalo epistemológico e a tragédia gramatical que ocorrem no comboio amarelo são, todavia, mais graves ainda. Porque a mulher que encena a revisora, recusando a passividade dos fatalistas ou dos resignados face ao normativo da função, recria a têxtil cinza e frugal onde está vestida.
Corrompe, com as subtilezas estilísticas da inteligência feminina e o auxílio de pequenos adereços – um lenço colorido, uma jóia singela… – a austeridade marcial da farda. O uniforme, além de sinalizar a sua condição profissional, objectiva também despersonalizá-la, abolir a dimensão humana da funcionária, torná-la apenas expediente sem rosto nem sexo.
Vã intenção do casto estilista; naquela luminária que lhe recodificou o traço inóquo mora um corpo vibrátil, impossível de olvidar e possuído de uma ética singular: aquele corpo não deseja ser outro.
O rosto dela, talvez – há nele um excesso cremoso que pretende iludir as reminiscências do acne, profuso e perfurante, de um pretérito ainda recente. A betonagem espessa de cosmética é demasiado frágil, porém, ao escrutínio mais atento, e no seu exagero configura, até, uma máscara potencialmente expressionista, em que à proximidade máxima sobrepõe-se a máxima estranheza. Numa certa medida, o rosto da revisora é uma obscenidade figurativa…
Mas não o seu corpo. Longo e curvilíneo, como o das deusas macedónias, esplendorosamente carnal e dotado de uma sensualidade invasora, é também ambiguamente púdico e abstracto. Como Shangai Lily, um poderoso agente de sedução que impõe, aos viajantes abrasados por tanta luz, um fosso intransponível entre o desejo e o festim.
Convertidos em vítimas sacrificiais desse rito de volúpia que apenas ocorre nos imaginários exauridos pela rotina conjugal, os passageiros mais lúcidos resignam-se à impossibilidade. E, acometidos de ptialismo repentino, acrescentam utopias impronunciáveis às oscilações daquelas ancas cosmogónicas. Apesar de maduros quase todos, volvem à infância rendidos a uma nova fábula. Anatómica e quase táctil.
Ela ignora-lhes, porém, a reverência e o espanto; alheia ao psicodrama que suscita, passa pelos utentes do comboio amarelo num excurso tangente às libidos em erupção; e, não obstante a marcha firme, senão dura, daquelas pernas que evocam a estatuária helénica, flutua sobre densas nuvens de testosterona.
Nem por um instante, sequer, desvia o seu percurso de colibri, picando bilhetes num clique vigoroso que logo abandona nas mãos trémulas, suadas, dos já fiscalizados. E deixa-os mudos, murchos, exauridos. Desenganados…
Sucede, porém, que a lúbrica luzerna é, afinal, muito mais do que corpo; num dos lapsos do Criador, que tão distraído anda, não raro, da justiça distributiva, calhou em sorte à revisora um cérebro ágil e nervos de ferro. Logística que, associada à compleição favorecida pelo divino, sugerem-na campeã entre as hostes femininas quando deflagrar a guerra dos sexos de alta intensidade.
Enquanto não ocorre a chacina prometida desde o Génesis, a valquíria ferroviária treina os dotes com o critério da oportunidade, o que, no comboio amarelo, dá azo a exercícios frequentes. Há dias, não muitos, materializou-se num passageiro nocturno procedente de Santo Tirso.
Entrou naquela estação, onde não havia vivalma para além dele e da companhia, precedendo um sujeito de cabelos brancos, com as costas curvadas pela idade e pela subserviência, uma mulher magríssima, de olhos tristes e sem resquícios de qualquer graça, e um casal de crianças, menos irrequietas do que seria expectável.
A sucessão desse cortejo nada tem de aleatório, antes obedece a uma rígida hierarquia, ordenada pelos valores patriarcais enraizados no húmus social minhoto e que a Modernidade não logrou erradicar. De resto, o homem, baixo e seco, não se coíbe de afirmá-la ao distribuir, imperativo, os lugares que os demais devem ocupar, desenhando uma geografia do poder nos assentos do comboio amarelo: ele e o sogro num lado, esposa e filhos no outro.
Imediatamente a seguir senta-se, três bancos mais atrás, o último passageiro, também proveniente de Santo Tirso, com ar cansado, ofegante, até, mas de impecável aprumo e bom gosto evidente. Tem cerca de 40 anos, uma pasta de cabedal e um casamento algures.
Lesta, a revisora dirige-se para os recém-chegados com a alfaia picadora em riste.
– O bilhete, por favor – solicita, lacónica mas educada.
– Não temos. Queria cinco bilhetes para Guimarães – replica o líder do clã.
– A ausência de bilhete implica uma multa de 50 euros. A cada um – volve a revisora.
– Pois, mas não vi nenhuma bilheteira a esta hora da noite! – declara o homem, subindo o tom.
– Mas elas estão lá, as máquinas de venda de bilhetes. Tem apenas de seleccionar o seu destino e introduzir o dinheiro necessário… – torna a revisora, cujo discurso didáctico é abruptamente atalhado pelo outro, que se empertiga e larga brados de indignação:
– O quê?! Está a chamar-me mentiroso? Mentiroso? Já lhe disse que não havia bilheteiras e quero cinco bilhetes! Mais nada!
Sangai Lily não perde a compostura nem se intimida com o vozeirão do homenzinho que, no cadastro das metáforas rurais, se assemelha a um garnizé despeitado pelo galinheiro. Pelo contrário, com gestos precisos e vagarosos, arcando uma carga cénica que lhe imprime autoridade e segurança, retira do bolso a esferográfica e o bloco das multas.
– Lamento, mas a sua distracção ultrapassa-me. Receio ter de multá-lo, assim como às pessoas que o acompanham.
– Nem pense! Não havia bilheteiras. Acha que eu sou mentiroso? Mas quem é que pensa que é para falar assim comigo? – grita, literalmente, o garnizé sob o olhar aterrorizado da esposa e da prole, habituadas à convivência com o mau-génio dele, cujas raízes remontam à infância e aos compêndios da escola freudiana.
A seu lado, o senso-comum do sogro, temendo uma catástrofe, leva-o ao atrevimento. E toma uma atitude.
– Desculpe, minha senhora, mas a verdade é que esta é a primeira vez que entramos em Santo Tirso, e não sabíamos da existência dessas máquinas. Se pudesse desculpar-nos e passar os bilhetes, ficava-lhe muito agradecido – balbuciou, crivado pelas chispas oculares que emanam do garnizé.
A revisora cessa imediatamente de escrever, levanta os olhos do papel e pousa-os sobre o homem de cabelos brancos e costas ainda mais curvadas do que há instantes. Percebe nele a carga imensa que transporta, vislumbra na mulher aterrorizada o cárcere a que foi condenada pelo santo matrimónio, detecta nos miúdos uma vivência assolada pelo terror. E decide-se pela compaixão.
– Muito bem. Vou fazê-lo. Por si. – diz, sem trair a comiseração por que foi tomada. Esfíngica. Glaciar.
– Mas ela está a chamar-nos mentirosos! – repetiu o garnizé, cuspindo raiva e censura ao sogro, sem olhar sequer para a revisora. E aquela, mantendo a expressão impaciente que afivelou, informa-o:
– A si, vou multar.
E multou. Sem qualquer protesto do garnizé, cuja crista, se a teve alguma vez, inflectiu para a caixa craniana – onde se suspeita que sobejasse espaço –, esmagado pela valquíria ferroviária.
Cumpridas as formalidades (transmudadas em exéquias de um bronco suburbano no caso do garnizé vimaranense), a revisora acercou-se do outro passageiro que também havia entrado em Santo Tirso.
– A senhora vai-me perdoar, mas eu também não tenho bilhete. Vim a correr para conseguir apanhar o comboio, e confesso que, também por ser a primeira vez que ando nestes comboios, desconhecia as bilheteiras automáticas que referiu… Assim, se tivesse a paciência de me passar um bilhete, ficava-lhe muito grato – disse-lhe, a face muito vermelha perlada por gotículas de suor.
A revisora fita-o por instantes. Depois, mirando por cima do ombro o garnizé multado que tenta ainda processar a humilhação a que se sujeitou, sorri pela primeira vez e replica-lhe, vincando a mensagem subliminar que comporta o perdão:
– Não se preocupe. No seu caso, tenho a certeza que foi mesmo só por distracção.
Algures, Samotrácia terá lamentado não ter à mão escopro e cinzel para eternizar aquela valquíria, Nike contemporânea que espalha luz pela ferrovia.